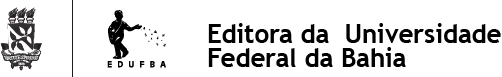Ana Magda Carvalho

Neste mês, o Espaço do Autor EDUFBA apresenta o livro Índios e Caboclos: a história recontada, publicado em 2010. Esta obra, organizada por Maria Rosário de Carvalho e Ana Magda Carvalho, reúne artigos de diferentes pesquisadores e professores, apresentando uma perspectiva multidisciplinar sobre o assunto. Confira, a seguir, entrevista com a organizadora Ana Magda Carvalho, representando todos os autores envolvidos nesta publicação. Durante o bate-papo, conversamos sobre o processo de conpceção de Índios e Caboclos e os temas abordados na obra.
Por Laryne Nascimento 02/04/2012
1 – Como e quando você e Maria Rosário de Carvalho tiveram a ideia de organizar a obra Índios e Caboclos: a história recontada? A ideia inicial partiu da Prof. Maria Rosário de Carvalho, há alguns anos atrás, diante do que os estudos e pesquisas histórico-etnográficos realizados por nosso grupo de pesquisas – o PINEB, Programa de Pesquisas sobre Povos Indígenas do Nordeste Brasileiro – vinham apresentando: a constatação de que havia toda uma história, relativa aos povos indígenas do Nordeste, a ser recontada, uma vez que contrariava, de forma inequívoca e contundente, a visão da história oficial do Brasil, segundo a qual não haveria mais índios ou povos indígenas, especialmente nesta região. Ainda de acordo com esta versão da História, os índios do Nordeste (e também do Leste) do Brasil ou teriam sido exterminados, ou incorporados e assimilados ao conjunto mais amplo da sociedade brasileira, em seu processo histórico de formação, ao longo de cinco séculos. Dos índios, de suas culturas, de seus modos de ver e viver teriam restado, quando muito, certos traços ou heranças que se fariam presentes, de forma folclórica e pitoresca, no nosso cotidiano, no nosso jeito de ser brasileiro, o que ficou caracaterizado e cristalizado como a “fábula das três raças”, construção ideológica que concebe o Brasil enquanto resultado da contribuição, algo cordial e voluntária, de brancos, negros e índios. Os Índios do Nordeste, e era/é o que as pesquisas do PINEB vinham/vêm demonstrando, nas últimas três, quatro décadas, têm logrado nos apresentar outra visão das coisas, não exatamente a visão dos vencidos, mas a dos que, a despeito de tantos massacres, preconceitos e adversidades de toda ordem, ousaram resistir e persistir, enquanto sujeitos coletivos e distintos no contexto do Estado-nação brasileiro. Daí a ideia do livro, de ter a modesta pretensão de recontar um pouco dessa história, projeto este que abracei e ao qual passei a me dedicar, na qualidade de co-organizadora, ao lado da professora Maria Rosário. 2 – Este livro revisita, através de estudos etnográficos, as categorias Índio e Caboclo. Como elas se diferenciam? Ao lermos os artigos, escritos por pesquisadores ligados, direta ou indiretamente ao PINEB, e começarmos a trabalhar no sentido da organização da publicação, constatamos que eles poderiam ser agrupados em dois blocos temáticos específicos – um contemplando as circunstâncias e especificidades da participação dos Índios na formação da nação brasileira, especialmente no âmbito da religiosiddade afro-brasileira e das representações cívicas e políticas em torno da figura emblemática do “Caboclo do Dois de Julho”; e um outro bloco temático que dava conta, justamente, de estudos etnográficos específicos, que tinham por objeto o processo correntemente chamado, na Etnologia Indígena, de “emergência étnica”, através do qual grupos e coletividades passam a assumir, e a reivindicar, o estatuto de povos diferenciados, revertendo um quadro histórico extremamente negativo, e realizando, mediante acirradas lutas e conflitos, a reconversão da posição de “caboclos” a “índios”. No nosso livro, são tratadas e discutidas as situações histórico-etnográficas específicas dos Kiriri, Pankararé, Tumbalalá e Tupinambá, todos localizados no estado da Bahia. Assim sendo, revisitamos as categorias “índio” e “caboclo”, tentando apontar como, a partir do processo colonial, passou a haver uma distinção classificatória entre os índios ditos “bravios”, e aqueles já “amansados”, caboclicizados, literalmente “saídos do mato”, como a própria etimologia da palavra “caboclo” sugere. Acreditava-se que, através da ação missionária, do ensino da língua portuguesa nas aldeias e do estímulo aos casamentos interétnicos entre brancos e índios, este processo de desindianização ou caboclicização se consumaria. Outro fator importante que contribui para este processo foi o sistemático esbulho fundiário, perpetrado pelos não índios, sob os auspícios da burocracia estatal. Em muitos contextos, o argumento era, como ainda hoje é utilizado desavergonhadamente, de que “não são mais índios”, são “caboclos”, “sertanejos”, “brasileiros”, e que não precisam mais de terras com um estatuto diferenciado, perdendo, consequentemente, o direito legal a elas. 3 – Há uma diferenciação também nos papéis que cada uma destas categorias cumpriu em relação ao candomblé? Nos cultos de canbomblé e de umbanda, o “caboclo” é o “índio” no sentido de uma ancestralidade que se reporta aos que são considerados os “verdadeiros e primeiros donos da terra”. Seja Índio ou caboclo, neste caso específico, trata-se de um profundo respeito e reverência a uma mesma entidade ancestral, ainda que receba nomes e papéis distintos, tal como Boiadeiro, Marujo, Jurema, etc. Mas mesmo fora desse contexto religioso, o que se percebe é que os “Caboclos” são fortes emblemas de uma brasileiridade que se reconhece e é identificada com os povos autóctones e ancestrais das Américas. Vemos isso no desfile do Dois de Julho, aqui em Salvador e no Sete de Janeiro, na Ilha de Itaparica. O povo baiano tem uma relação muito forte com o “Caboclo do Dois de Julho”, um sentimento de fé e ligação espiritual que tem forte relação, por sua vez, com a forma mesma de se reconhecer enquanto povo guerreiro e valente, que lutou para se libertar dos grilhões da servidão colonial portuguesa. 4 – Os índigenas sempre foram motivo de preconceito, inclusive nas abordagens “em prol” desta etnia na mídia, por exemplo. Podemos perceber uma melhora nesta situação? Por conta dos movimentos encetados pelos próprios índios, e em parceria com seus aliados não índios, muita coisa realmente tem mudado, para melhor, na relação dos povos indígenas com a sociedade brasileira. E isto tem acontecido não só no Brasil, mas em todo o continente americano, do Alaska à Terra do Fogo. Foram formulados e criados marcos jurídicos importantes, como a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que estabelece a primazia da autoconsciência da identidade indígena a ser respeitada pelos Estados nacionais signatários dessa Convenção. Isto foi um grande avanço, uma vez que antes, em processos de demarcação de terras indígenas, por exemplo, era necessária uma espécie de emissão de um “certificado positivo de indiandidade”, geralmente dado ou negado por um antropólogo, e retificado, ou não, pelo Estado. No Brasil, um grande avanço ocorreu também com a Constituição Brasileira de 1988, que revogou os postulados da tutela, da pressuposta incapacidade processual civil dos indios, e do assimilacionismo – a ideia de que os índios vão desaparacer, uma ideia que existe e persiste, por sinal, desde as primeiras décadas da colonização. Infelizmente, por outro lado, no plano dos fatos, há, ainda, muito desrespeito e preconceito. A mídia, aqui tomada em conjunto, tende a tratar os índios – do Nordeste, sobretudo – de forma estigmatizadora e reducionista, o que tem a ver com os próprios interesses que ela, ou parte dela, representa. Há poucos avanços também na área da Educação, que tem, tradicionalmente, prestado um desserviço ao omitir toda uma história que deve ser recontada. É verdade que hoje existe a lei 11.645, que torna obrigatório o ensino da história e cultura indígenas e afro-brasileiras nas escolas. Não há, por outro lado, um investimento do Estado brasileiro na capacitação e formação sistemáticas de gestores escolares e, principalmente, de professores. 5 – Você é doutoranda na UFBA e está sendo orientada por Maria Rosário. Qual tema estão desenvolvendo? Na tese de doutoramento que estou desenvolvendo, trabalho com a discussão do conceito de fronteira, que é uma categoria central nos estudos de etnicidade e dos procesos de formação dos Estados-nação modernos. Como recorte empírico da pesquisa, tenho procurado aplicar este conceito – e outro correlato, o de territorialização – ao estudo da formação e transformação do espaço regional no Oeste da Bahia, junto a comunidades rurais de geraizeiros e ribeirinhos. São comunidades muito estigmatizadas pelos regionais, porquanto associadas aos povos ameríndios que ocupavam a região. Ao trabalhar com a memória social e com as narrativas que localizam os índios “tapuias” no passado, tenho me deparado com um universo, diversificado e rico, povoado de encantarias e tapuias “pegados a dente de cachorro”, como eles dizem lá. Tenho a modesta pretensão de recontar um pouco dessa história, a história da formação e transformação dessa fronteira, uma história também pouco conhecida. 6 - Você também é integrante do Programa de Pesquisa Povos Indígenas do Nordeste Brasileiro (PINEB/UFBA), coordenado por Maria Rosário. Pode falar um pouco sobre o trabalho desenvolvido neste programa? A história do PINEB tem estreita relação com a história recente dos povos indígenas do Nordeste sobre a qual falamos acima. Surgiu por iniciativa do Professor Pedro Agostinho da Silva, em 1971, a partir de uma viagem de reconhecimento ao território dos Pataxó de Barra Velha, em Porto Seguro, reunindo alunos de História e Ciências Sociais. À época, o prof. Pedro Agostinho, recém-chegado à Universidade Federal da Bahia, não encontrou um ambiente acadêmico favorável ao desenvolvimento de uma Etnologia Indígena, já que seus próprios pares consideravam “perda de tempo” estudar “coisas mortas”, como se dizia, então; no caso, índios. O fato é que com o passar dos anos, Pedro acabou atraindo em torno de si alunos e pesquisadores que passaram a desenvolver uma série de estudos e pesquisas sobre os Índios do Nordeste, conferindo-lhes visibilidade e relevância acadêmica. Dissertações de mestrado, teses de doutorado, livros, pareceres, laudos, artigos, textos jurídicos, enfim, fazem parte de um acervo que hoje é referência obrigatória no campo da Etnologia Indígena brasileira. Seja atuando no campo propriamente acadêmico-científico, na formação de quadros e no desenvolvimento de projetos de pesquisa de médio e longo prazos, seja no campo político, cujo desdobramento mais significativo foi a criação da Associação Nacional de Ação Indigenista (ANAI), no começo dos anos 1980, Pedro Agostinho da Silva, um pedagogo e um ativista com todas as letras e acentos, é por nós considerado nosso Mavutsinim, nosso “herói cultural”. 7 – Alguma nova publicação em vista para este ano? Temos um rico material relativo à história da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA, cuja oportunidade de publicação estamos examinando. 8 – Deixe uma mensagem para os leitores da EDUFBA. Sugerimos, pois, a leitura de Índios e Caboclos: a história recontada, mas como a possibilidade de início de uma jornada, no transcurso da qual seja despertado o interesse por conhecer, cada vez mais e melhor a(s) história(s) dos Índios do Nordeste e do Brasil. E ao fazê-lo, inevitavelmente estaremos conhecendo também a nós mesmos, enquanto povo, enquanto nação.